Três horas antes da sessão e a sala já estava praticamente lotada. Enquanto eu me sentava no meu lugar marcado, vários góticos suaves, adolescentes e um moleque invocando o belzebu procuravam suas poltronas. Naquele momento, imaginei que no meio do filme ele dispararia tiros contra a plateia, no melhor estilo american way of life, mas achei que um revólver pudesse ser uma arma pouco satânica, e usar facas contra toda aquela multidão daria muito trabalho. O que importa é que o marketing de A bruxa fez efeito: críticas positivas da mídia especializada, elogios de Stephen King e até de um tal Templo Satânico venderam A bruxa como uma grande promessa pra te deixar cagado de medo no cinema.
Estamos no ano de 1600 e pouco, numa comunidade rural da Nova Inglaterra. A família super-religiosa do patriarca William, composta por ele, a esposa e seus cinco filhos, é expulsa da colônia onde viviam por motivos não esclarecidos e é obrigada a se isolar próxima a uma floresta densa, vivendo de caça, plantação própria e muita oração ao nosso bom Senhor Jesus Cristo. Quando o caçula, o bebê Samuel, desaparece de forma bizarra, a paz na rotina daquelas pessoas também vai embora; coisas estranhas começam a acontecer, enquanto uma suspeita de bruxaria se fortalece.
Vamos começar com um WARNING FÃS DE ATIVIDADE PARANORMAL: A bruxa não é um filme de terror jumpscare. Se você estava com isso na cabeça, é melhor nem ir ao cinema, pra não atrapalhar a experiência das outras pessoas (essa minha sessão estava cheia de murmurinho e gente frustrada). No entanto, se você gostou de O Babadook e Corrente do mal, por exemplo, então A bruxa foi feito pra você. O filme é puro horror sugestivo e usa ferramentas muito melhores, na minha opinião, pra te deixar assustado o tempo inteiro, do que monstrinhos aparecendo de surpresa no canto da tela. Aqui, temos uma fotografia belíssima que aproveita a luz natural, escura, sombria e sufocante; uma reconstrução de época extremamente bem feita; cenas longas e mais lentas, principalmente na primeira metade, e uma trilha sonora que eu só consigo classificar agora como insana: desafinada, incômoda, lembra um pouco os cantos gregorianos (puxando para a dualidade religiosidade x profanidade) e parece realmente evocar o mal. Tudo isso é o que constrói a atmosfera tensa e provocativa de A bruxa.



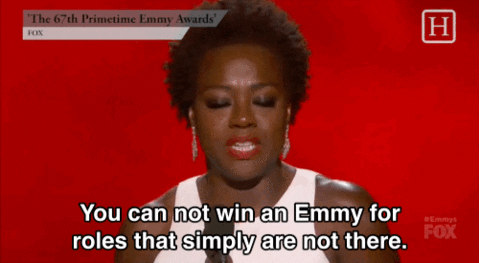


 Metade capixaba, metade mineira. Redatora e ilustradora. Não acredita em signos. Prefere a massa ao recheio (o que não se aplica a seres humanos).
Metade capixaba, metade mineira. Redatora e ilustradora. Não acredita em signos. Prefere a massa ao recheio (o que não se aplica a seres humanos).





